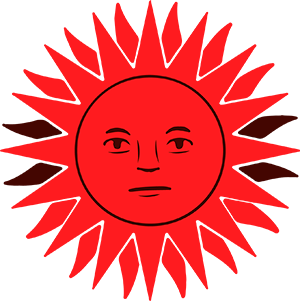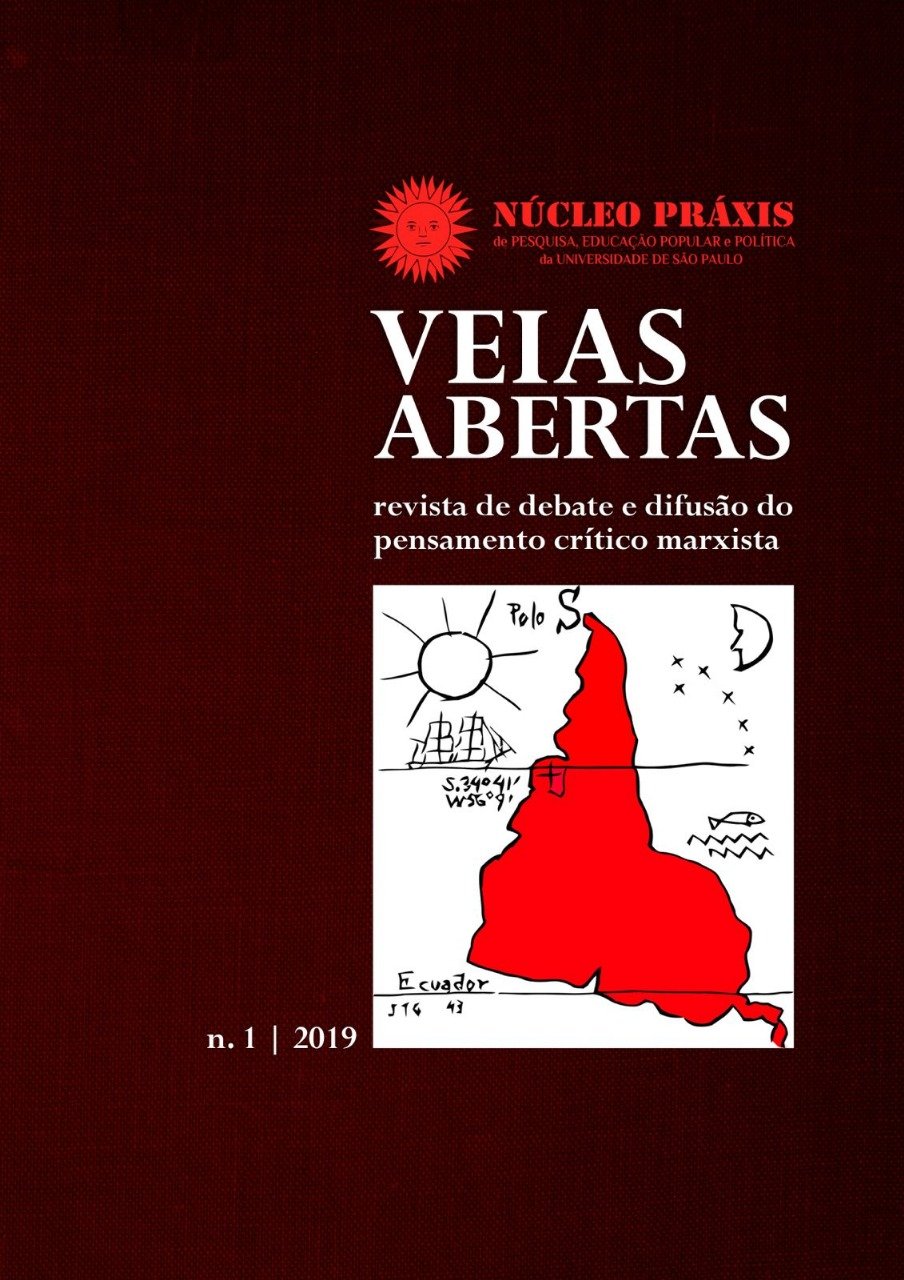TEMPO HISTÓRICO E FORMA FÍLMICA EM CÂNCER DE GLAUBER ROCHA
Por Paulo Yasha Fonseca *
Resumo
O filme Câncer de Glauber Rocha foi filmado em agosto de 1968 e montado e sincronizado em maio de 1972. Ao incorporar o tempo de sua realização na forma, esta obra, por meio dos dois últimos estágios de sua realização, efetua uma crítica ao movimento cultural e político de 1968, época da captação de suas cenas. A partir da defesa da experimentação na arte, bandeira tropicalista, o diretor Glauber Rocha efetua uma inflexão formal, a fim de expressar a mudança política e cultural após o Ato Institucional número 5 (AI-5) – que agravou a repressão da ditadura militar no Brasil.
Palavras-chave: Cinema brasileiro; Tropicalismo; Crítica cultural e política; História do Brasil; Glauber Rocha
*****
Câncer de Glauber Rocha é um filme que incorpora seu tempo de realização como dois momentos históricos distintos das relações entre cultura e política na ditadura civil-militar no Brasil. Este pouco conhecido filme do autor de Terra em Transe configura-se como uma reflexão formal sobre a época na qual foram captadas as imagens que compõem o filme: quatro dias durante agosto de 1968, e seus quatro anos subsequentes, após seu exílio em virtude do AI-5 até 1972, quando é montado e sincronizado em Cuba. Ao incorporar na forma esta defasagem temporal das suas etapas de realização, Câncer empreende um balanço retrospectivo das agitações de 1968 no Brasil e o seu desenlace com o motivo do exílio de seu autor – o AI-5. Com esse fim, Glauber Rocha na montagem e sincronização estrutura o filme com duas “inserções documentais” que demarcam esta diferença temporal. Deste modo, seu sentido deve ser procurado na estrutura formal que busca condensar as circunstâncias históricas de sua própria realização, efetuando uma intervenção política sobre aqueles acontecimentos.
Contexto sócio-histórico
A inserção documental do início, a primeira sequência de Câncer, consiste no modo como o autor em 1972 via a conjuntura do Brasil de 1968, ano em que nasceram as imagens, isto é, as experiências formais com o som direto e a duração do plano em torno dos temas da marginalidade e da violência. As imagens – travellings com a câmera na mão – apresentam a sala lotada da cinemateca do MAM do Rio de Janeiro, e uma mesa de debates cujos participantes eram importantes personalidades do meio cultural da época, entre os quais Gustavo Dahl, cineasta e participante da formação do Cinema Novo; Antônio Houaiss, intelectual tradutor da primeira edição brasileira do “Ulisses” de James Joyce; Ferreira Gullar, escritor e poeta, autor de “Vanguarda e Subdesenvolvimento”e Rogério Duarte, desenhista gráfico, poetae um participante ativo do Tropicalismo1. Este último será também ator no filme de Glauber. Na plateia, logo na primeira fila, nota-se a presença de Hugo Carvana, um dos Marginais de Câncer, o próprio Glauber Rocha e o cineasta Arnaldo Jabor. Desde já, encontramos um conjunto representativo do meio acadêmico e cultural carioca. Entretanto, não ouvimos o som ambiente – as falas e aplausos são justapostos pela voz ocultado cineasta baiano com o som do plano-sequência seguinte e de uma fala em espanhol de um crítico de cinema cubano2.
O autor apresenta de modo retrospectivo e tom improvisado o contexto sócio-histórico de onde surgiram as filmagens, a equipe e o processo de produção, excetuando o motivo da distensão temporal de quatro anos para o seu término, só sendo revelado na segunda intervenção documental:
Era em Agosto de 1968… Era no Rio de Janeiro em agosto de 1968, uma agitação arretada, os estudantes na rua, os operários, tinha operário ocupando fábrica em Minas Gerais, operário ocupando fábrica em São Paulo e estudantes fazendo agitação. Era a ditadura do Costa e Silva que tinha sido o segundo ditador, depois de Castelo Branco e tinha derrubado o presidente Jango que estava fazendo a revolução em 64, não era o marechal Castelo Branco não, que este era um marechal reacionário… Então estava uma onda terrível, os estudantes na rua, o líder era Vladimir Palmeira, tinha Marcos Medeiros, Elinor Brito, o psicanalista Hélio Pelegrino, Franklin Martins, a barra pesada toda. Mas não era mesmo uma revolução, quer dizer, era agitação, era… tinha o maio o francês também, tava uma onda arretada. Nego dizia o seguinte que era revolução, mas era a classe média radical, burguesia liberal reformista na rua. E os operários… Tinha muito camponês morrendo de fome no nordeste. Que, aliás, continua morrendo de fome até hoje, tão morrendo a mais de 400 anos. E os intelectuais estavam lá no Museu de Arte Moderna naquela noite. Exatamente discutindo sobre a arte, a arte revolucionária, por que estava começando o tropicalismo, uma onda arretada. Aí eu chamei o Saldanha, Luiz Carlos Saldanha, que tinha chegado da Itália, ele tinha uma Arriflex. O Luiz Carlos Saldanha fez a fotografia e a câmera e o som direto foi feito por José Ventura. Agora Hugo Carvana, Antônio Pitanga que é baiano e Odete Lara fizeram os papéis principais, o mais Rogério Duarte que é Baiano também, Zé Medeiros, Hélio Oiticica que é pintor, e o pessoal Biju, Tineca, um pessoal da Mangueira e mais Zelito, quer dizer, não Doutor Zelito do filme, Doutor Zelito da Mapa Filmes e Chiquinho que tava na Kombi. E aí o tempo passou, por que ficou… Depois eu cheguei em Havana, aí fiz no ICAIC o som… A sincronização foi feita por Raul Garcia e eu montei com a Tineca e a Mireta. Numa coprodução, e aí entrou o Barceloni na Itália e ficou com o título Câncer… Rio de Janeiro. Filmado ali pelo Rio de Janeiro, na favela, na Zona Sul, na Zona Norte, sobre aqueles marginais do Rio de Janeiro, uma filmagem que demorou quatro dias para filmar e quatro anos para montar e sincronizar… Terminou em maio de 1972 – de agosto de 68 a maio de 72 –, Câncer.
Narrativa e improviso
A voz oculta tem a mesma forma de improviso que encontraremos durante as cenas de Câncer. O movimento da narração inicia por uma interpretação da conjuntura de 1968, e mais estritamente do mês de agosto, quando ocorrem as filmagens. O espaço externo às imagens impressas é o da ditadura de Costa e Silva, segundo ditador depois de Castelo Branco. Este, por sua vez, deu o golpe no presidente João Goulart. O primeiro elemento interpretativo e de intervenção política se dá aqui, agora com a posição do autor em relação à ditadura. Esta chamava de “revolução” o que na verdade foi um golpe de estado de um reacionário, Castelo Branco, contra uma verdadeira revolução que estava sendo empreendida pelo presidente Jango. Ele retomará essa posição agora em relação às esquerdas. As agitações nas ruas lideradas pelos estudantes, também não eram revolução, como muitos de seus participantes diziam, pois restritas a extratos das classes altas e médias, e ao operariado das fábricas. Agitações concentradas nos centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Já a miséria nordestina permanece insolúvel há 400 anos. Veremos que o protagonista é justamente um nordestino, Antônio Pitanga, um dos marginais.
O movimento da narração apresenta, então, o que seria o correlato dessas agitações no plano da cultura, simbolizado neste debate no MAM entre intelectuais sobre a arte revolucionária, em decorrência da entrada em cena do Tropicalismo. O termo revolução, segundo o autor, estava na ordem do dia, tanto para as forças em confronto nas ruas – a “repressão” e o movimento estudantil – como para o campo da produção cultural. As filmagens de Câncer seriam resultado imediato das discussões sobre arte revolucionária em torno da centralidade do movimento tropicalista em 68. A passagem para a apresentação da equipe de filmagem decorre dessa relação. Mas, como vimos acima, a relação não está apenas na voz over, mas também nos participantes do filme. Além do mais, o artista plástico Hélio Oiticica, assim como Glauber Rocha3, também ator nas cenas que se seguirão, eram, à época, próximos ao movimento. A obra Tropicália de Oiticica deu nome ao long-play de1968, e Terra em Transe é geralmente reconhecido como uma das obras precursoras do movimento.
Podemos, assim, verificar que a voz over inclui as filmagens de Câncer como parte do ideário político-cultural do período. Mas o autor efetua uma espécie de elipse de tempo – aí o tempo passou – não revelando o motivo da distensão temporal que o fez terminar o filme apenas nos quatro anos seguintes em Cuba. É deste tempo e local de que fala a voz oculta quando silencia pela justaposição o evento no MAM. Este recurso épico tem a finalidade de situar em seu devido tempo histórico as imagens captadas durante aqueles quatro dias de agosto de 1968. E ao fazer isso internaliza aquela conjuntura de modo didático na sua estrutura, ao longo dos seus 60 planos colados entre si e articulados à sonorização.
Montagem e sincronização: quatro anos depois
Mas é necessário pontuar: assim como a voz over fala em 1972, a montagem e a sincronização não são mais de 1968. As imagens coladas entre si, a deformação das vozes assumidas na sincronização por um defeito do som direto, bem como a trilha sonora são resultado dos quatro anos seguintes. As cenas são cômicas e improvisadas por Hugo Carvana e Antônio Pitanga como os Marginais; e Odete Lara, além de Hélio Oiticica e Rogério Duarte (na primeira e última cena); um pessoal da Mangueira, Biju, Tineca, José Medeiros e Luiz Carlos Saldanha.
A primeira inserção documental efetua uma mudança de sentido desta experiência formal e cinematográfica. Ela se transforma, em parte, na representação de uma conjuntura: o caráter farsesco na atribuição do termo revolução tanto às vanguardas estéticas em torno do tropicalismo, quanto aos revolucionários, em confronto nas ruas, da esquerda e da direita.
Os elementos externos à cena (presentes em inúmeros momentos de Câncer) como a interferência da voz ou da figura do diretor no espaço fora do quadro, aparição de elementos técnicos como o microfone ou refletor4 revelam o artifício da produção. As vozes e os ruídos nascem, em parte, do procedimento do som direto e, em parte, do processo de finalização. O acaso diante da câmera também é incorporado ao resultado final. Há, aqui, uma implosão das convenções narrativas ainda presentes na tradição do modernismo do Cinema Novo5. Estamos no registro da radicalização formal das vanguardas do final da década, com destaque para o cinema de Godard e Straub/Huillet, cujo caráter cifrado e fragmentário buscava romper radicalmente com a tradição narrativa cinematográfica voltada, em maior ou menor grau, à comunicação. Se efetivava, durante os anos 1960, o ideário da autonomia da arte cinematográfica, e a ênfase na liberdade do autor como forma de recusa ao caráter industrial e mercantil da indústria cultural nos países centrais do capitalismo. Os filmes neovanguardistas eram exibidos em festivais de cinema como o de Cannes, Berlin e Veneza e em circuitos alternativos de produção e distribuição de filmes de baixo orçamento, propiciada em certa medida pelo excedente comercial da própria grande indústria e pelas políticas culturais financiadas pelo Estado6. O mote “não há arte revolucionária, sem forma revolucionária” (Ridenti, 2000, p. 278) enunciado por Maiakóvski em pleno processo revolucionário, se aclimatava aos circuitos alternativos de alta cultura dos países capitalistas centrais em tempos de Welfare State.
As imagens captadas de Câncer são, justamente, motivadas por conversas de Glauber Rocha com Jean Marie Straub em uma de suas viagens a festivais, a respeito da duração do plano e de efetuar experimentos com o som direto (Rocha, 1997, p. 180). O caráter informal7 e experimental do filme de Glauber tornou-se, segundo Ismail Xavier o padrão da produção cinematográfica brasileira do período 68-73(Xavier, 2012, p. 53). Câncer nasce sob o signo das vanguardas brasileiras do período, que devem ser vistas na sua especificidade. Mas ao ser restruturado nos seus estágios posteriores de produção, efetua uma reflexãosobre os limites e contradições destas mesmas vanguardas.
O modo de estruturação das cenas entre si, após a primeira inserção documental e até a segunda como veremos, revela o movimento das encenações que, vistas de forma independente, expressam o aumento contínuo da tensão entre os atores. O paradoxo entre as cenas e a montagem é que, enquanto aquelas internamente expressam o aumento da violência, mesmo que sob o clima da farsa e da descontração, a última estrutura um movimento entre elas (pontuado por travellings do Rio de Janeiro, da Kombi) que arrefece a agressão. O primeiro travelling se dá em seguida à primeira inserção documental, em que a Kombi desce um morro e penetra no meio inteiramente urbano. Em voz over o autor e Doutor Zelito, personagem de José Medeiros, efetuam o seguinte diálogo de modo retrospectivo: “– naquele dia a cidade estava cheio de mato, disse Doutor Zelito – a cidade nasceu do meio do mato […] é necessário uma profilaxia, precisamos exterminar os mosquitos”.
O caráter simbólico das frases nos revela uma primeira imagem que condensa elementos pré-modernos na cidade do Rio de Janeiro (o mato, os mosquitos) no presente (naquele dia) e no passado, a origem da cidade. A unidade temporal dia, correspondente a um dos quatro dias de filmagens, desloca as possíveis abstrações geradas pelas cenas seguintes para a singularidade daquelas experiências formais em agosto de 1968. A partir de então, aqueles marginais do Rio de Janeiro podem não ser apenas as duas personagens de Antônio Pitanga e Hugo Carvana, mas os próprios envolvidos na experiência. Entretanto, a figura de Pitanga é central, pois o modo como sua trajetória é formalizada e estruturada pela montagem durante todo o filme, procura expressar de modo irônico o movimento político-cultural do período.
O Marginal Antônio Pitanga em seu primeiro plano sequencia, de quase dez minutos, encena uma improvisação com Rogério Duarte e Hélio Oiticica, em que aquele vai à procura de trabalho e sofre de modo progressivo violência e humilhação verbal por ser crioulo e vagabundo. O Marginal não responde com a mesma violência, seu desespero apenas aumenta, enquanto Duarte encena a agressão. O Marginal está acompanhado de um sambista também negro. Ele improvisa sambas que ilustram o diálogo entre Rogério Duarte e o Marginal (na voz ocultado início,ambos são “baianos”). Oiticica observa segurando uma arma e, no único momento em que fala algo, é condescendente ao oprimido que está ali em busca de trabalho. O palco é a varanda do artista plástico com o fundo de um jardim de bananeiras, enquanto Duarte tem em seu pescoço um colar do tipo indígena. A artificialidade e o improviso da cena são visíveis, seja pela falta de técnica teatral dos não atores, seja pelo espaço fora do quadro, ponto de fuga em que todos se voltam em busca da orientação do diretor. Essa cena e as demais coladas entre si organizam um movimento progressivo de picos de agressão até um novo recomeço contínuo na cena seguinte, que terá seu desenlace na cena da praia. Quando da violência e humilhação inicial, o Marginal oprimido encontra a redenção ao lado da atriz de classe média em direção à sua ascensão social e à volta para a Bahia. Veremos adiante como tal cena retoma como paródia o emblema do mar na promessa revolucionária do final de Deus e o Diabo na terra do Sol e a sua continuação trágica do início de Terra em transe.
Características do movimento tropicalista
Neste ensaio não há espaço para uma necessária reflexão sobre as relações entre o tropicalismo e as imagens captadas em 1968 devemos, por hora, apontar de modo amplo algumas características do movimento que estão expressas em Câncer como: a presença de Hélio Oiticica e Rogério Duarte; a radicalidade na experimentação que implode as convenções do cinema narrativo clássico, a partir da incorporação da sua matriz europeia e do cinema underground estadunidense; a articulação entre elementos modernos (da alta cultura e cultura de massa) e referências à condição colonial; a utilização da ironia e do deboche como recurso de representação; uma certa representação do protagonismo da marginalidade, associando contracultura, criação vanguardista, com banditismo social e urbano, combinada à revalorização do surrealismo. Além do espaço urbano como palco privilegiado para as suas representações.
Tais formas estão espalhadas por todo o Câncer, mas a cena final, anterior à segunda inserção documental, como etapa final do percurso não apenas dos marginais, mas da equipe na cidade do Rio de Janeiro, é estruturada na montagem como o fim de um movimento histórico, a das agitações de 1968. Após o longo plano-sequência em que o Marginal, interpretado por Antônio Pitanga, encena um encontro amoroso com uma moça (a primeira cena em que este Marginal não sofre qualquer tipo de violência), e um último travelling da cidade, vemos o Marginal, Hugo Carvana, e Odete Lara em uma conversa amena. O espaço é um restaurante na beira da praia e já afastado do ambiente propriamente urbano. Em seguida, por meio de um plano aberto, o espaço se apresenta: a panorâmica, da esquerda para a direita, sai da praia passa por uma estrada à sua beira e enfoca o Marginal (Pitanga) se aproximando com uma valise do restaurante onde estão os outros dois personagens. Ele entra no espaço. O Marginal branco levanta de onde está com Odete Lara (no espaço externo, em uma mesa ao pé de uma árvore em que avistamos um macaco) e vai ao seu encontro. O corte revela uma mulher falando no interior do restaurante, mas apenas ouvimos o áudio de uma música em castelhano, e uma conversa também em castelhano. Em seguida, o travelling da Kombi acompanha o fusca no qual avistamos os três. A trilha é um som de free jazz, acentuando a atmosfera da “liberdade” solar e vazia da praia. Os três fumam um baseado. Saem do fusca e se direcionam a praia. O mar revolto é o pano de fundo. A cena é inaugurada pela voz do diretor orientando a posição de Carvana. O Marginal negro está com a valise que representa sua libertação e a possibilidade de volta à Bahia.
De modo distinto à cena em que os dois Marginais contracenavam e o Branco se encontrava no ponto mais alto da hierarquia, agora o poder é do Negro que além da valise, tem a seu lado a atriz. Eles cantam e dançam felizes, enquanto o Branco elucubra em voz alta como abrir a valise para alcançar sua “ascensão social”. Então, quando se percebe derrotado, se coloca de bruços, em um gesto eminentemente artificial, para que o negro o enforque. Feito o gesto, a câmera na mão enquadra os dois, atriz e Marginal, na areia da praia. Cantam e dançam felizes em direção a um horizonte que, simbolicamente, representaria a sua libertação, para em seguida, um travelling enfocar Carvana. O primeiro plano do Marginal Branco deitado na praia em contraste com aquela alegria compõe a imagem irônica da libertação pela violência.
Encerra-se aqui, como veremos por meio da montagem, um período histórico no dia 13 de dezembro de 1968. Mas, antes, retornemos para a imagem antecedente, pois ela nos evoca a fuga do casal do sertão em Deus e o Diabo, quando se punha no horizonte uma transformação radical da sociedade – o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão.
Acirramento da luta e crítica ao Tropicalismo
Em pleno movimento em direção às reformas de base, centrada principalmente na reforma agrária, o país parecia em 1963 que iria sair da sua condição colonial que, por sua vez, teimava em perdurar. Havia um clima de acirramento das lutas no campo e nas cidades que empurrava o próprio governo João Goulart – em virtude dos laços construídos do trabalhismo com suas bases – ainda mais para a esquerda. Já os movimentos culturais como o Centro Popular de Cultura construíam laços com os movimentos sociais e sindicatos visando à formação de um teatro épico que contribuísse com o processo de transformação em curso. O próprio Cinema Novo procurava documentar e/ou expressar a miséria brasileira do campo. A última imagem do litoral em Deus e o Diabo simboliza um horizonte já enunciado pelo profeta, a imagem de um mundo que se converteria no seu contrário.
Mas a derrota com o golpe de primeiro de abril de 1964, transfigura tal horizonte no início de Terra em transe. O mar passa a ser o marco de uma narração sobre o significado da ruptura empreendida pelos militares e com o apoio de uma parte importante de políticos e empresários nacionais, com a contribuição decisiva do imperialismo norte-americano. E o resultado é a expressão de uma crise cuja imagem final é a do poeta, jornalista e “militante de esquerda” Paulo Martins que literalmente morre na praia.
Não é possível neste espaço analisarmos todas as configurações do filme de 1967, mas podemos, entretanto, ressaltar, além da recorrência do mar e da praia, agora com o sinal invertido, a importância da sua recepção no meio intelectual e artístico do período. Objeto de crítica de uma parte da esquerda, não obstante tornou-se referência fundamental para a formulação do ideário tropicalista. Mas, como vimos, Glauber Rocha, com Câncer empreende a crítica ao Tropicalismo, por meio da primeira inserção documental por apresentar tais cenas como produto daquelas agitações que se pretendiam revolucionárias, mas restritas à estratos das classes médias e altas dos centros urbanos. A experiência formal com a qual Glauber Rocha parece condensar 1968 tem seu “horizonte utópico”, agora em forma de farsa, como saída individual de libertação dos seus atores. Se em Deus e o Diabo o horizonte aparecia como promessa de revolução social, em Câncer de modo irônico aparece como a ascensão individual do marginal e da atriz de classe média. Entretanto tal período histórico termina e inicia a segunda inserção documental e o epílogo em sequência:
O resultado… O resultado daquela agitação toda é que no dia 13 de dezembro de 1968, 1968… Mês de dezembro, Costa e Silva proclamou o ato cinco, o institucional Ato Cinco. A burguesia carioca lá do Rio de Janeiro. Naquele dia fascinante, a cidade era… alucinante. Estava passando muito dinheiro na bolsa em 71; em 72, a bolsa quebrou. O alto custo do desenvolvimento superficial, desumano e oligárquico pago pelo fundo (?), pago pelo sacrifício da classe operária. E por cima, e por cima o imperialismo norte-americano. É… Estava duro o desemprego do Oiapoque ao Chuí, a classe analfabeta e pobre e nêgo por cima. Paz nas altas, pau na farsa; paz nas altas, pau na farsa. O esquadrão da morte pessoal, a guerrilha tava comendo solta naquela época… Tinham matado Marighela, tinham matado o Capitão Lamarca. E reinava o partido integralista, e o terceiro ditador se chamava Médici, o torturador, pau nas altas, paz na farsa, a falência começou, mas nêgo estava se divertindo pacas, naquele dia fascinante, a cidade era um campo alucinante, é pessoal, não tava mole não, faca… Naquele dia fascinante a cidade era…
A voz oculta do autor tem agora uma nítida mudança de tom. Há uma espécie de frenesi aos berros, na conjunção entre frases desconexas e palavras de ordem que se repetem na elocução da passagem temporal para os quatro anos seguintes. Apesar do improviso na primeira inserção, ainda havia um caráter explicativo na referência à conjuntura política e cultural que viu nascer as imagens de Câncer, momento histórico que a montagem e a sincronização procuraram condensar. O tom era ameno, ao passo que a acusação tornou-se franca. Esta segunda inserção documental preenche a elipse de tempo anterior do “e aí o tempo passou…”, com o resultado não apenas daquelas agitações todas, mas do próprio Câncer no exílio do autor, a partir da promulgação do Ato Institucional número 5.
Acultura desaparece da voz over e o que ouvimos é a apresentação de uma crise que se movimenta (tal movimento aparece nas imagens, como veremos a seguir) em direção a 1972. O epílogo se inicia, então, com a promulgação do golpe dentro do golpe por Costa e Silva. Glauber busca sintetizar o que se convencionou chamar de Milagre Brasileiro: a convivência entre arrocho salarial, repressão aos sindicatos e altíssimo índice de crescimento econômico. Ele enfatiza também a alta da bolsa em 1971 e, depois, a sua queda em 1972, como um possível início de crise econômica. Nesse contexto, Médici endurece o regime com a intensificação da prática da tortura, enquanto a guerrilha parte para o confronto. Carlos Marighela e o Capitão Lamarca são assassinados. Como vemos, aquelas agitações resultam no endurecimento do regime. É interessante notar que, assim como na primeira inserção documental, o autor trata de apresentar a distância entre a burguesia e a base dos trabalhadores. Se antes, as agitações não correspondiam à revolução, justamente por estarem restritas a certas camadas altas e médias, agora a “paz” reina, mas apresentada como farsa, já que a crise no espaço e tempo exteriores às imagens permanece e se aprofunda. No exílio o autor denuncia o caráter falso da “paz” entre as elites e, entre elas, as mesmas que participaram daquelas agitações anteriores ao AI-58.
As imagens que “ilustram” a voz over apresentam modelos desfilando em planos fechados, pessoas sorrindo enquanto bebem, jogam, e se divertem, em meio a produtos expostos em estandes. Lá estão, entre as quais: Nara Leão posando para a câmera, Zelito Vianna (produtor do Dragão da Maldade) e Danuza Leão concedendo entrevistas para uma rede de TV. As imagens das modelos, por meio de travellings em câmera na mão parecem representar a passagem de tempo expressa pelo narrador, ao mesmo tempo em que o caráter documental da sequência permanece demarcado na cidade do Rio de Janeiro daquele dia fascinante. Portanto, as imagens são de 68, mas ela busca condensar a passagem de tempo para 72. Nesse sentido, as duas inserções documentais fazem parte de uma mesma época, agosto de 68. Mas a montagem e a sincronização estruturaram uma passagem de tempo que busca estabelecer o contraste entre o tempo das filmagens e o da finalização, como veremos a seguir nas duas últimas sequências, após os quase quatro anos que se seguiram desde aquelas agitações.
O contraste é evidente. Da alegria no espaço solar da praia em que o nordestino e Marginal negro e a atriz de classe média, Odete Lara, encontram sua redenção, para a imagem do centro chuvoso, escuro e tumultuado do Rio de Janeiro. Da paisagem em que o mar revolto, com suas ondas sem direção, palmeiras e a imensidão do horizonte, são o cenário da experiência com planos-sequências e atores improvisando sob o efeito da maconha, para a atmosfera urbana e dos movimentos mecânicos de carros e transeuntes nas suas idas e vindas apressadas. A imagem redentora, em profundidade de campo dá lugar ao Marginal, em nova profundidade de campo, mas agora atravessando a rua e se afastando para se perder em meio à multidão. Ao fundo se avista um cinema com letreiros de dois filmes de Hollywood: Rio Vermelho e A Indomada (logo associamos ao imperialismo americano da voz over antecedente). Além da mudança do clima, há uma inflexão formal, na qual a câmera passa a “documentar” o Marginal a procura de trabalho e comida. Desaparecem as referências da equipe e dos dispositivos técnicos. Saímos do viés cômico para o tom sério da tradição do cinema brasileiro moderno, ainda presente em Terra em Transe e até as primeiras experiências cinematográficas surgidas em torno do ideário tropicalista. Agora a interação é com os transeuntes curiosos que observam a câmera ou interagem com o Marginal.
Considerações finais
O movimento de Câncer, como podemos concluir até aqui, expressa a saída do meio urbano para a praia e o seu retorno para um local ainda mais opressivo. Se antes havia uma valorização da experimentação formal em tom cômico, com elementos urbanos ao lado de referências primitivas; nesta sequência o que resta é a cidade e o registro de uma marginalidade distante do sentido heroico do marginal subversivo contra a ordem vigente, como na sequência da delegacia com o Marginal (Carvana) ou aquela na qual os dois marginais contracenam. A posição da sequência foi montada por Glauber Rocha para expressar 72. Portanto, apesar da mudança formal, ainda permanecem referências a 1968 como, por exemplo, um plano dos livros Eros e civilização de Herbert Marcuse e o Problema chinês de Roger Garaudy. Seria impensável tal exposição em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro, após a promulgação do AI-5. Apesar da mudança histórica narrada, portanto, há algo de farsesco em todo o filme. Glauber Rocha formaliza, então, uma espécie de “acabou a brincadeira” quando procura repor o clima de desespero, ainda presente em Terra em Transe. O formalismo vanguardista, do qual o Tropicalismos e imaginava protagonista fica, portanto, restrita àquelas agitações.
O último plano sequencia do filme apresenta com maior clareza esse acerto de contas com as vanguardas em torno do tropicalismo. O Marginal negro reencontra Rogério Duarte e Hélio Oiticica, porém aquele não se lembra das cenas anteriores. Em vez de bananeiras, estamos agora em um descampado. O sambista negro volta ao tamborim e alguns figurantes (um pessoal da Mangueira) compõem a paisagem e observam a cena. A moça com quem o Marginal contracenava em uma cena amorosa também está lá. Rogério Duarte tenta falar com ele (sem a arrogância e o espírito dominador anterior), mas o Negro não quer conversa. O poeta traz a moça para perto dele que também não a reconhece e declara neologismos de frente para a câmera: adorpicalha, atrozpicalha. Em seguida, Hélio Oiticica expressa sorrindo – nada é melhor que a loucura. Nesse momento, o Marginal que não quer mais trabalho, tira o revólver das mãos de Oiticica e atira em Rogério Duarte. Glauber Rocha efetua nos estágios finais da produção do filme, a composição sonora de um tiro de revólver, contrastando com artificialidade do assassinato do Marginal brancona praia. Mas o poeta zomba da situação e demora a morrer. Quando o Marginal em desespero sai à busca do colar indígena no pescoço do cadáver, o artista plástico não permite, ele, então, também o mata. O filme termina com o Marginal aos gritos de frente pra câmera: – eu quero matar o mundo, o mundo não presta. O sambista canta um lamento pela morte de Rogério Duarte e o filme termina.
O descompasso é evidente entre o desespero do Marginal que abandona qualquer esperança de obter trabalho, o humor melancólico do poeta tropicalista, e a defesa da loucura contra cultural por Hélio Oiticica. A cena se torna mais irônica e simbólica quando evocamos os acontecimentos em torno do III Festival da Canção em 1968. Ali, como se pode recordar, Caetano Veloso foi vaiado com a canção É Proibido Proibir pela plateia presente. O autor de Alegria, Alegria e Gilberto Gil, então, produzem um show na boate Sucata, com Os Mutantes, no qual um dos elementos visuais do palco é a bandeira de Oiticica Seja Marginal, Seja Herói em homenagem ao bandido Cara de Cavalo. Caetano Veloso definiu este festival tropicalista como “um festival marginal ao festival que se seguia” (Ventura, 2008, p. 172). Essa associação entre o tropicalismo e a figura do marginal como elemento subversivo e anárquico, se insere no imaginário da “revolução pelos costumes” trazida pelos ventos emanados do maio francês e também contraposta a uma tradição revolucionária, segundo a qual, uma revolução só acontece por meio da luta de classes. Parece-nos que tal ideia estava na cabeça de Glauber Rocha quando montou e sincronizou Câncer. Quanto ao título, associamos à ideia da doença incurável correspondente à barbárie brasileira cuja promessa de sua superação foi bloqueada em primeiro de abril de 1964. Já o ano das filmagens de Câncer apresenta as agitações como encenação de uma radicalização político-cultural que teve seu desenlace no golpe dentro do golpe.
*****
1 Rogério Duarte foi o autor da capa do disco “Tropicália” de 68.
2 Esta voz seria de entrevistas de um crítico cubano chamado Henrique Molina para um programa de TV. São comentários sobre o filme de Rocha, “Der Leone Have Sept Cabezas”(1970). Esta entrevista foi justaposta por Luiz Garcia no ICAIC em 1972 (DUARTE, pp 85).
3 A adaptação da peça Roda Viva escrita por Chico Buarque e encenada por José Celso Martinez Corrêa, foi dedicada a Glauber Rocha.
4 A relação entre a personagem de José Medeiros (Doutor Zelito) com o autor é visível. Há uma cumplicidade nos diálogos que aparecem no travelling inicial e na cena em que os marginais o procuram para vender um aparelho estadunidense desconhecido. A cena é cômica com um “desenlace” que reafirma a relação. O aparato técnico como o refletor e o microfone, ou os sinais da presença do diretor estão presentes principalmente até a segunda inserção documental.
5 O conjunto de cineastas cinemanovistas, como o próprio Glauber Rocha, procurava, cada um a seu modo, denunciar a miséria de um país “subdesenvolvido” em busca da superação de seu atraso, concomitante às reformas de base do governo João Goulart. A comunicação com o público, ainda, era o fim visado. Devido ao objeto – a miséria no campo – os filmes deste período eram sérios e representavam uma realidade a ser denunciada e divulgada, para finalmente superá-la. Neste sentido, a despeito das diferenças de estilo, filmes como Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos, Deus e o Diabo na Terra do Sol do próprio Glauber e Os Fuzis de Ruy Guerra, aclimatavam procedimentos das vanguardas cinematográficas dos anos 20, como o construtivismo russo de Eisenstein; e o novo cinema europeu do segundo pós-guerra, como o neorrealismo italiano e a nouvelle vague francesa, em vista da formação de um cinema anti-industrial, que fosse a expressão do próprio “subdesenvolvimento” do país.
6 Sem esquecer da divulgação com críticas e resenhas em importantes revistas como Cahiers du Cinéma e De Positif.
7 Glauber escreveu à época das filmagens que captou as imagens de Câncer para experimentar alguns recursos, como o som direto e o improviso em plano-sequências, que seriam depois utilizados no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e divertir-se com amigos. De fato, as cenas foram filmadas em um período de espera para que os negativos do longa de 1969fossem liberados na alfândega e parte da equipe pudesse partir para Milagres. (Rocha, 2002)
8 Zuenir Ventura narra o réveillon de 1968 na casa de Heloísa Buarque de Holanda em que estavam reunidos intelectuais e artistas, entre eles Glauber Rocha, em uma típica festa da elite farta em bebidas e comidas. Essa mesma festa corresponde a essa aproximação entre as duas inserções documentais, imagens de 1968 coladas para representarem épocas distintas. A festa , como a segunda inserção documental , aproximam elites culturais e econômicas . São apresentados, portanto, como membros de uma mesma classe, a burguesia. (VENTURA, 2008, págs 17-28).
*****
Bibliografia
CAMARGO COSTA, Iná. A Hora do Teatro Épico no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
DUARTE, Theo C. Marcas do Experimental no Cinema: Um estudo sobre Câncer. 2012. 122 F. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, 2012.
ROCHA, Glauber. O século do Cinema. São Paulo: Cosac Naify, 2000.
ROCHA, Glauber. Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac Naify, 1999.
SALLES GOMES, Paulo Emílio (Org.) Glauber Rocha. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1977.
SCHWARTZ, Roberto. Ao Vencedor às Batatas. São Paulo: Duas Cidades, 1992.
SCHWARTZ, Roberto. O Pai de Família e Outros Estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
VENTURA, Zuenir. 1968, O ano que não terminou. São Paulo: Ed. Planeta, 2008.
XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal. São Paulo: Cosac Naify, 2012
Filmografia (Rio de Janeiro/RJ; Direção: Glauber Rocha; Prod.: Mapa Filmes/Glauber Rocha/ICAIC/ Barceloni)
Deus e o Diabo na terra do Sol (1963). Ficção, 120 min., b&p.
Terra em transe (1967). Ficção, 115 min., b & p.
Câncer (1968-1972). Ficção, 82 min., 16 mm, b&p.
Notas
* Filósofo, professor, mestre em Filosofia (USP). Pesquisador-membro e fundador do Núcleo Práxis da Universidade de São Paulo. Texto de 2016.