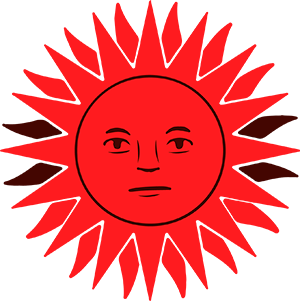A permanente reverência que se faz à figura de José Honório Rodrigues (1913-1986), como um grande teórico e intérprete da História do Brasil, se alicerça na relevância de sua obra historiográfica, tendo essa a iniciativa de compreender a estrutura social e política do país
Por Paulo Alves Junior*
José Honório Rodrigues é autor de importância inconteste nas áreas de pesquisa, teoria e metodologia da história. Notadamente, sua contribuição não se restringe somente às lides históricas. É mister ressaltar no conjunto da obra uma linha de interpretação da sociedade brasileira que destaca ao longo do processo histórico, a existência de uma “conciliação pelo alto” entre os representantes da elite brasileira, sendo que o povo sempre fora “capado e sangrado” por ela, jamais contemplado em suas “legítimas aspirações”, dessa forma a história do Brasil seria uma “história cruenta”, sem possibilidade de atendimento às reivindicações e aspirações do povo.
Trajetória intelectual
José Honório Rodrigues nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 20 de setembro de 1913, no bairro da Glória. Completou os estudos primários no Colégio Santo Antonio Maria Zacarias, situado no mesmo bairro e o secundário no tradicional Colégio São Bento. No início da década de 1930, ingressa na faculdade de Direito do Rio de Janeiro, depois da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Durante o curso, teve maior interesse por Ciências Sociais e História. Entre seus professores, aquele que mais o cativou foi Edgardo de Castro Rebello, autor de importante estudo sobre o Barão de Mauá.
No ano de 1937 formou-se e no mesmo ano foi contemplado com o prêmio de Erudição da Academia de Letras pelo ensaio Civilização holandesa no Brasil, escrito em parceria com Joaquim Ribeiro e publicado pela Companhia Editora Nacional, compondo a Coleção Brasiliana. O livro destaca a região Nordeste que, para José Honório Rodrigues, significava não apenas o cenário das invasões flamengas, mas o berço do “nacionalismo radical mameluco”.
Entre 1943-1944, foi bolsista na Fundação Rockfeller, nos EUA, onde participou de cursos de História. Durante sua passagem pelo país teve como orientador o professor Frank Tannembaum, que ministrava a disciplina de História da América Latina na, em Columbia University em Nova York. Ainda nesse período, em Detroit visitou o Museu da Cidade para conhecer as obras de Frans Post, pintor holandês que veio ao Brasil integrando a comitiva de Mauricio de Nassau em 1637 e pintou obras que retratavam a paisagem brasileira. Cabe lembrar, o período como bolsista do Conselho Britânico em março de 1950, marcado por uma intensa pesquisa nos arquivos do Museu Britânico.
Antes da estadia em Londres, José Honório Rodrigues é convidado pelo então diretor do Instituto Rio Branco, Hildebrando Accioly, para lecionar História do Brasil no curso de aperfeiçoamento. Como resultado das aulas ministradas, elabora a sua Teoria da história do Brasil: introdução metodológica, publicada em 1949. Durante o período de 1946 a 1956, foi professor do Instituto, o que lhe possibilitou planejar um curso em que, preliminarmente, seriam estudadas a metodologia da história e sua historiografia. Visava dar aos alunos uma ideia mais exata do que é a História, os seus métodos e a sua crítica, a bibliografia e a historiografia brasileira, de modo a prepará-los para um conhecimento crítico da história do Brasil.
Com um grande compêndio sobre teoria da história, José Honório procurou mostrar como se manejavam as fontes, como se aplicavam os métodos e a crítica, como se doutrinava e interpretava o material recolhido e criticado, na tentativa de “recriar o passado numa composição ou síntese histórica”. Além disso, foi professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) por vários anos; professor visitante em inúmeras universidades estadunidenses, e atual em programas de professor de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em 1955, foi integrado, primeiro como estagiário e depois como conferencista, ao quadro da Escola Superior de Guerra (ESG). Essa passagem, que se tornou uma colaboração constante até o ano de 1964, quando o golpe civil militar o afasta da instituição, teve grande impacto em sua trajetória intelectual. Coube (coube aonde?) a José Honório Rodrigues o tema “Caráter Nacional”, que resultou na obra Aspirações Nacionais: interpretação histórico-política, publicada em 1963. Nessa obra, ele inicia uma nova fase como um historiador interpretativo, preocupado com a “história e o tempo presente”.
Honório foi o terceiro ocupante da cadeira número 35 da Academia Brasileira de Letras, eleito em 4 de setembro de 1969, para a sucessão de Rodrigo Octávio Filho. Na cerimônia de posse foi recebido pelo Acadêmico Barbosa Lima Sobrinho em 5 de dezembro de 1969. Enquanto acadêmico, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de Institutos Históricos estaduais, da Sociedade Capistrano de Abreu, da Academia Portuguesa da História, da Associação Histórica Norte-Americana, da Academia Real de História (Inglaterra) e da Sociedade Histórica de Utrecht (Holanda).
A partir de sua atuação na Escola Superior de Guerra, emerge em 1965 outro livro sintonizado com suas preocupações: Conciliação e reforma no Brasil –interpretação histórico política. Em sua análise, era preciso compreender a história do Brasil na “longue durée”, porque o exame restrito das problemáticas sociais não poderia se realizar, segundo o autor, em reduzidos espaços de tempo.
Os dois livros desse período – Aspirações Nacionais e Conciliação e reforma no Brasil – têm como tese central compreender os fatores do “retardamento” do Brasil. As conclusões apontam para o colonialismo e ao imperialismo, ou seja, ao longo e demorado regime de submissão a interesses metropolitanos e à sobrevivência da estrutura colonial, econômica e política pós-independência. A argumentação de José Honório parte da inexistência de ruptura do regime colonial, que sobreviveu com o absolutismo do período monárquico (1822-1889), com a legislação tradicionalista e arcaica, com a relativa imobilidade administrativa, com a alienação das elites, com a fragilidade da conjuntura e com a estabilidade da estrutura, imutável e incapaz de atender às necessidades nacionais. “O período colonial e sua sobrevivência determinam todo o subdesenvolvimento posterior.” [1]
Nessa articulação entre os entraves resultantes do colonialismo e sua manutenção, mesmo após a emancipação política do país, José Honório Rodrigues destaca que o “colonialismo interno”, característica determinante dos problemas sociais, explica-se pela sujeição do povo aos interesses dos grupos dominantes, na comparação, na longa duração entre o comportamento da liderança e do povo.
Em Aspirações Nacionais, José Honório Rodrigues apresenta sua primeira análise interpretativa do Brasil apontando de forma contundente os limites históricos sociais da elite do país, sua incapacidade de observar as “legítimas aspirações do povo” e, ao seguir ordinariamente seus interesses, sempre falsear a “fabricação da História, a verdadeira história nacional ainda precisa ser feita.”[2]
Já Conciliação e reforma é a tentativa de elaborar uma leitura das contradições que explicam a sociedade. Se em Aspirações nacionais, procurou no processo histórico quais foram as legítimas, e nunca atendidas, aspirações do povo – compreendendo-as como possibilidades de avanço para a sociedade –, desta feita o intuito é mostrar como a prática de conciliação pelo alto explica o processo histórico brasileiro. O traço de uma marcante e constante prática antirreformista da elite é singular no entendimento da história do Brasil, a “conciliação formal e partidária” visava romper o círculo do poder, para que as facções divergentes e dissidentes pudessem dele fazer parte. O autor expõe que os acordos políticos, prática recorrente na história do país, são realizados sempre sem nenhum benefício nacional e popular, e quando as “elites fratricidas” não são contempladas em seus interesses indignam-se e conspiram.
Esse seria papel dos liberais na maioria brasileira. Derrotados nas urnas e afastados do poder, eles tornaram-se intolerantes e acabaram sendo os grandes responsáveis em construir uma concepção conspiratória da história: “que considerava indispensável à intervenção do ódio, da intriga, da intolerância, da intransigência, da indignação para o sucesso inesperado e imprevisto, tal como sucedeu em várias partes, de suas forças minoritárias.”[3]
Outra conceituação de importância significativa em Conciliação e reforma é a que diz respeito à noção de “história cruenta”. A discussão retoma um tema que o autor se empenha em problematizar desde os seus escritos sobre teoria da história, ou seja, demonstrar como determinada interpretação da sociedade brasileira procurava ocultar os momentos “liberticidas do povo”. O objetivo era destacar “as grandes obras, as capitanias hereditárias, os feitos da Colônia” [4]. Dessa forma, os momentos de “vacilação da elite, que se recusa a atender as reivindicações do povo”, são deliberadamente ocultados, sua ação resultante, que acaba permitindo movimentos sociais de grande importância nacional, não se destaca e, com raríssimas exceções, a possibilidade de uma “história incruenta” não se completa. Momento exemplar desses raros momentos, segunda assertiva honoriana, ocorre durante o período Regencial com a eclosão de vários movimentos de contestação social.
Na sociedade brasileira, com todas as suas deformidades sociais e crimes contra os interesses sociais, o autor assevera que no Brasil “nunca uma revolução foi vitoriosa”. Mesmo com a existência de rebeliões populares e sociais, como a Balaiada, a Cabanagem, a Praieira; com a prática do “banditismo social”, rebeliões de escravos, a constante foi a repressão, não permitindo que as reivindicações fosses radicalizadas ou mesmo contempladas. Da mesma forma, José Honório Rodrigues recorda que as rebeliões que representavam as forças e aspirações das classes dominantes tiveram resultados diferentes [5].
O próprio cenário histórico ganhou ares cruentos a partir do processo que desembocou na abdicação de Pedro I. Assim, cabe ressaltar que, no dia 7 de abril de 1831, o imperador resolve abdicar do trono brasileiro, medida vista como contraditória, pois tal iniciativa colocou o país nos difíceis anos da Regência (1831-1840). O modelo político adotado era uma forma constitucional de solucionar o problema instituído com a abdicação, pois na época o príncipe herdeiro não tinha idade legal para assumir o trono. A solução estava, portanto, em nomear três regentes, segundo a constituição vigente. Todavia, como o Congresso estava em recesso, o partido moderado assumiu o poder com o intuito de frear as agitações políticas da época. Inicialmente o governo composto por: Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva, reintegrou o chamado “ministério dos brasileiros e anistiou os presos políticos.” (Prado Jr, 2006).
Segundo José Honório Rodrigues, esse período representou um momento de “história cruentíssima”, pois os movimentos que apresentavam o povo como base sucumbiram, muito menos foram atendidas as reivindicações legítimas das massas. Somente os movimentos com caráter liberal e pequena participação popular não foram eliminados violentamente por parte das lideranças oficiais. Os que discutiam entre outros pontos a fim da escravidão observavam o povo ser massacrado, porém há aqueles intelectuais que apontam uma visão edulcorada do período, pensadores que representam a tradição conservadora apontada por Honório.
O historiador carioca destaca como representante de um pensamento conservador a leitura que Oliveira Lima realiza em O império brasileiro (1822-1889), obra publicada em 1927. Segundo esta obra, o Período Regencial foi uma realização estratégica de D. Pedro I. A abdicação em nome de seu filho foi vista como forma de demonstrar sua tristeza com o juízo que os brasileiros apresentavam dele, sentia-se um incompreendido. Com o crescimento das hostilizações contrárias à sua liderança, D. Pedro I viu-se na obrigação de romper com a condição de imperador e retornar a Portugal, porém, visando eliminar qualquer crise política, supostamente mais severa, passa a agir com destreza e, seguindo esse raciocínio, decide pela abdicação.
As assertivas de Oliveira Lima a respeito da abdicação reforçam o argumento honoriano, trata-se de um representante do pensamento conservador que vislumbra a abdicação como fato progressista, realização de coragem e coerência política por parte de D. Pedro I.
José Honório interpreta de forma distinta os desdobramentos políticos e sociais daquele período. Quando analisa os acontecimentos da Regência, duas questões são as que merecem maior atenção do intelectual carioca: a ação política das lideranças do período e a violência das denominadas “revoltas regenciais”. Definindo o período como de uma “história cruentíssima”, o intelectual carioca avalia como as lideranças políticas, pautadas pela estrutura do império, poderiam oferecer uma mudança substantiva ao país. Permitiu-se somente pequenas reformas, a ideia fixa era evitar revoluções.
É inquestionável que entre as lideranças políticas – e por isso José Honório Rodrigues sempre destaca o caráter antirreformador dessas lideranças – não havia o mínimo interesse de que o Brasil passasse às condições sociais vigentes. Ao contrário, todos aqueles que se lançavam a essa tarefa foram repudiados pelo poder constituído e refutados na sua ação política. As lideranças políticas são refratárias, débeis e, portanto, não conseguiram assumir o compromisso de rompimento com a tradição.
A obra honoriana encontra-se nas antípodas da análise de Oliveira Lima, pois este não sinaliza os limites políticos das ações durante a Regência, ao contrário do historiador carioca que critica o continuísmo existente sem as necessárias reformas e sem a integração dos setores populares.
Durante os anos da Regência o povo encontrava-se em estado de inconformismo generalizado, motivado por fatores sociais e econômicos, pois continuava, como “besta de carga”. Os nove anos foram de muito sangue, maior ainda pela reação extremada contra os movimentos de caráter popular e sertanejo, exemplificado por revoltas sociais como os Cabanos, no Pará, e a Balaiada, no Maranhão e Piauí, ambas alistando as camadas “mais miseráveis do povo”[6]. Por isso mesmo foram chefiados por liberais e “rigorosamente exterminadas a ferro e fogo e punidos sem contemplação os seus cabeças.” (Rodrigues, 1965).
A história cruenta sistematiza a condição desumana das lideranças liberais no Brasil. Assim, em nenhum momento tivemos uma liderança que se interessasse em conciliar-se com o povo e realizar reformas sociais de grande porte. Por mais que ganhasse a feição de um governo republicano, na prática, os Regentes nunca se propuseram a uma “conciliação nacional e popular”. A estabilidade granítica das instituições corresponde a uma mera instabilidade governamental, logo, as alternâncias constantes nos anos de Regência foram determinantes para um período extremamente cruento. A história cruenta mostra os limites de um liberalismo que não funcionou na vacância do imperador, haja vista que desde a abdicação os embates políticos visavam estancar as instituições maiores e amplas. Para tanto, a solução “legal” da Regência serviu para a manutenção do mesmo estamento no poder, quando da eclosão das revoltas, e alguma possibilidade de esfacelamento político, de modo que os responsáveis pela política apelaram à instalação de formas autoritárias de poder.
Historiador e intérprete do Brasil
Recuperando as premissas que podem ser consideradas como “chave heurística” para “pensar o Brasil” – a defesa das “legítimas aspirações nacionais”, o processo histórico de “conciliação pelo alto” e a construção de uma contínua “história cruenta” –, o que José Honório Rodrigues nos oferece são argumentos que nos possibilitam compreender a peculiar formação da ordem liberal no Brasil.
O liberalismo que se institui na sociedade brasileira, está longe de representar o sistema de integração à sociedade de classes similar aos que foram incorporados em sociedades nas quais sua realização se deu por meio de um expressivo processo revolucionário. Os casos históricos de maior significado apontam para uma democracia liberal, fruto da superação de entraves historicamente constituídos, principalmente em estruturas agrárias controladas por uma elite, e só foram superados com movimentos revolucionários que “libertaram” o setor social em ascensão para criação de uma nova ordem.
Trata-se do surgimento das democracias modernas, em que as aspirações legítimas são instituídas e, durante o passar dos anos, consolidadas. Esses momentos históricos são identificados com a Revolução Puritana Inglesa, de 1640-1660, a Revolução Francesa, de 1789-1799, e a Guerra Civil da América, de 1861-1865. Todos foram movimentos, dentro de um longo processo de alteração política, que constituíram o que reconhecemos como a moderna democracia ocidental.
Esses processos têm causas econômicas, políticas e sociais peculiares, porém os resultados tornaram-se paradigmáticos, principalmente na tradição ocidental para a superação de uma ordem que se apresentava como historicamente ultrapassada – na transição da ordem feudal para ordem capitalista. Esse processo apresenta traços de uma época histórica específica, em que a criação da ordem liberal moderna instituiu a necessidade de direitos primários para uma nova sociedade civil em formação no Mundo Ocidental. Os elementos mais expressivos dessa “nova ordem” liberal e burguesa são o direito de votar, a representação numa legislatura que elabora as leis e, portanto, pelo menos em teoria, não concede privilégios especiais em virtude do nascimento ou de uma situação herdada, segurança aos direitos de propriedade e eliminação das barreiras herdadas do passado no seu uso, tolerância religiosa, liberdade de palavra entre outros.
Esses marcos, historicamente instituídos, passaram a ser referência de análise para aqueles intelectuais que procuravam apontar qual seria a base de formação para uma sociedade em que as instituições liberais, como representantes da ordem moderna, pudessem funcionar e criar uma sociedade civil em que as aspirações, interesses e as necessidades básicas do povo fossem contempladas.
Como intelectual ligado às questões do presente, José Honório Rodrigues teve sua produção, como já salientado, modificada após sua passagem pela ESG, e visava uma defesa constante do atendimento, por parte da elite dirigente, das “aspirações do povo”. É necessário destacar que essas são balizadas como típicas de sociedades democráticas liberais, em que o atendimento e a sociedade civil deva atender as reivindicações mais prementes do povo. O Brasil, ao longo de um processo histórico maciçamente cruento, não contempla tais condições da ordem democrática liberal. Os entraves instituídos na sociedade brasileira rementem à incapacidade de superar o poder do setor agrário.
Na passagem do Brasil para a ordem moderna, percebesse que não foi rompida, ou mesmo modernizada, a antiga ordem agrária, ao contrário, nosso entendimento de sociedade faz com que a ordem agrária, representada pelos setores mais conservadores, fosse responsável pelos movimentos de mudança. Dessa forma, a emancipação política, o fim da escravidão, a instituição do regime republicano, a constituição republicana (1891) foram momentos em que o presente se tornou dependente e caudatário do passado, ao invés de se proceder a um rompimento revolucionário – ou mesmo radical – para superar a forma social pretérita. Nesse sentido, a “conciliação pelo alto” foi a meta sempre almejada pela elite, para que não houvesse transformações capazes de excluir a estrutura agrária e retrógrada da sociedade. Para que essa prática fosse mantida, era necessário o uso da violência sistemática por parte da elite dirigente. Sendo assim, a história do Brasil se fez cruenta pela necessidade de um poder “fratricida” se perpetuar e, cada vez mais, se afastar do povo.
José Honório Rodrigues brinda-nos com uma leitura da sociedade escorada na mais pura tradição do liberalismo radical, a tradição que nos ofereceram intelectuais como Manoel Bonfim, Joaquim Nabuco, Sérgio Buarque de Holanda, entre outros. Estes, compunham o contrapeso do pensamento conservador que sempre imperou. O radicalismo liberal de José Honório representa, em nosso entendimento, uma das mais expressivas contribuições heurísticas para a compreensão dos fenômenos que construíram a sociedade brasileira.
Inserido num momento de transformações importantes no Brasil, os anos de 1950, o historiador interpretativo, que ganha fôlego a partir daquela década, procura elucidar quais os limites do Brasil moderno que ali se construía. Sua análise percorre os anos de formação da Nação e identifica que estávamos ainda encastelados num tradicionalismo agrário que impedia as resoluções dos grandes problemas nacionais, como parte da intelectualidade do período.
Sua interpretação radical pensa os problemas em escala nacional como um todo, procura soluções para a Nação, algo que o conciliador com o povo seria o perfeito artífice. O líder que se aproximasse das massas é que realizaria a defesa inconteste às aspirações, o conciliador a levar o país a verdadeira ordem democrática liberal.
O avanço que se identifica no historiador carioca repercute em sua formidável capacidade de reflexão a respeito do papel de tradicionais pensadores do liberalismo americanista. Em Aspirações Nacionais, Conciliação e reforma ou mesmo em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, sua verve enfatiza o americanismo como traço decisivo para a ruptura do atraso sistematizado no Brasil em suas contribuições a respeito das “aspirações legitimas”, “conciliação pelo alto” e “história cruenta”.
O liberalismo em consonância com o legado de Alexis de Tocqueville e Tavares Bastos é o espírito progressista que vislumbra uma dinâmica à sociedade brasileira, similar aos melhores exemplos do liberalismo que contagiou aqueles que acreditam em sua amplitude política. Vale ressaltar que o entusiasmo com os Estados Unidos e sua proposta democrática – tal como formulada por Tocqueville em Democracia na América – tem como mediação a proposta de Tavares Bastos, que acredita na experiência de produzir uma federação organizada tanto quanto instituir o espírito público nos membros da sociedade.
Intelectual comprometido com a construção e a consolidação de uma estrutura política que integrasse e superasse os históricos limites da sociedade brasileira, ofertando ao povo possibilidades de ver suas aspirações atendidas, José Honório Rodrigues foi também defensor de uma proposta de “pensar o Brasil” explicita num radicalismo liberal que comunga com o americanismo, sendo defensor acalorado de teses a respeito da sociedade civil e desenvolvimento da autonomia nacional. Suas teses são referências fundamentais para a formação de tradição historiográfica crítica.
Na tradição inaugurada por José Honório Rodrigues, encontramos a base de uma interpretação eficaz, prova disso é que até hoje nos remetemos a sua colaboração para responder à premente questão: “por que a conciliação não se faz com o povo?”, questionamento cada vez mais presente na triste sina da História brasileira.
****
Notas
[1] José Honório Rodrigues, Aspirações nacionais: interpretação histórico-política (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963).
[2] Idem.
[3] José Honório Rodrigues, Conciliação e reforma no Brasil: um desafio histórico político (R.J.: Civilização brasileira, 1965).
[4] José Honório Rodrigues, História viva (SP: Global, 1986).
[5] O exemplo usado é a Revolta dos Farrapos (1835-1845) que levou o governo a fazer concessões de caráter político. (Rodrigues, 1982).
[6] Rodrigues, 1965.
Bibliografia
Lima, Oliveira. O império brasileiro (1822-1889), Brasília: Editora universidade de Brasília, 1986.
Prado Júnior, Caio. Evolução política do Brasil, SP: Brasiliense, 2006, 21ª edição.
Rodrigues, José Honório. Aspirações nacionais: interpretação histórico política, RJ: Civilização Brasileira, 1963.
Rodrigues, José Honório. Conciliação e reforma no Brasil: um desafio histórico político. RJ: Civilização Brasileira, 1965.
Rodrigues, José Honório. História Combatente, RJ: Nova Fronteira, 1982.
* Paulo Alves Jr. é professor da Unilab (Bahia) e coordenador do Núcleo Práxis da USP.